[Imitação de Escritores]
Nenhum assunto é realmente difícil: basta perdemos o medo dele e, se formos apresentados a ele sem tanto alarde, tanto melhor. A questão da imitação de escritores eu prefiro tomar pelo caminho inverso que geralmente se faz: em geral, as pessoas enfatizam a imitação do estilo. O que eu proponho é que partamos do entendimento da mensagem até o desvelamento do estilo como os melhores recursos que o autor encontrou para expressar sua mensagem.
Vou subdividir, para fins didáticos, este assunto, em ordem crescente de complexidade (não dificuldade), em: I) Imitação pela fábula, II) Imitação de uma cena/trecho, III) Imitação de uma obra, IV) Imitação da unidade do autor.
Vamos lá.
I) Imitação pela fábula
As fábulas de Esopo são meu recurso favorito para explicar o funcionamento da inteligência perante uma narrativa. São narrativas curtas, sintéticas, mas poderosas: pérolas de sabedoria e enredos. Vamos a uns exemplos.
1) A raposa e o dragão [p.32]
Havia uma figueira no caminho; uma raposa, que vira um dragão dormindo à sua sombra, invejou o seu tamanho. Querendo igualar-se a ele, deitou-se ao seu lado e tentou esticar-se até que, exagerando em seu esforço, acabou por romper-se.
A 1ª coisa a fazer é esquecer a fórmula comum da fábula. Não pense em título-fábula-moral. O título é algo que cataloga a situação geral, mas sobretudo os animais envolvidos. A moral não é moral, mas a síntese da fábula. E a fábula é uma demonstração da síntese: pode ser tanto aquilo que gera a síntese como aquilo que é gerado pela síntese. A moral está para a fábula como o discurso poético está para o dialético (quase lógico), na tipologia dos 4 discursos do Olavo. Vamos à prática da imitação.
a) Construa uma narrativa análoga, similar, a da fábula. Pode ser contando uma história ou a partir de uma situação ou lembrança sua. Você já deve saber que a fábula usa animais para falar de situações humanas, então é muito simples, e a mente da gente é perfeitamente equipada pra fazer isso quase que automaticamente. Tente. Mas tente mesmo. Não existe erro ou acerto aqui, o máximo que existe é uma aproximação sucessiva dos detalhes.
Como não posso observar se vocês fizeram ou não o exercício, vou colocar abaixo dois exemplos de respostas, em fonte branca. Para ver, selecione a mensagem.
Ex.1: Bulimia. Uma mulher mais cheinha tinha inveja das meninas mais magras e queria a todo custo ser magra também, mesmo que não fosse propriamente gorda, menos ainda ruim de saúde. Assim, ela se obcecou com isso a ponto de que dietas e tudo o mais não adiantavam; começou a vomitar o que comia e a cada vez seu corpo ficava mais e mais fraco. Não emagreceu, mas adoeceu e, ainda no hospital, já à beira da morte, em nenhum momento se arrependeu: queria ser magra, era tudo o que podia pensar.
[ok, ficou exagerado]
Ex.2: [ok, essa é de safadeza] Um aluno de escola acompanhou Olavo no true outspeak. Vislumbrado, começou a imitar o Olavo. Algum tempo depois, ao entrar na universidade, decidiu agir como ele via o Olavo agir. Não conseguiu vencer nenhuma das discussões, passou a ser odiado entre alunos e professores. Não aguentou tanta pressão; desistiu do curso. Sem saber que outra coisa fazer, porque o curso era seu único interesse, perdeu-se em farras e bebedeiras, desnorteado.
Entendem o que é pra fazer? Um ponto que vale a pena mencionar. Esta fábula para imitar é problemática, porque ela mostra uma espécie tentando se aproximar da outra. Eu fiz exemplos com menos precisão: são duas pessoas da mesma espécie, mas em graus diferentes. Essa medida é também muito útil, porque de um lado ajuda na composição e de outro na compreensão dos matizes da fábula.
Vou passar mais uma fábula abaixo, sem deixar exemplos. Depois continuo o exercício.
2) A raposa e o cacho de uvas [p.31]
Uma raposa faminta viu uns cachos de uva pendentes de uma vinha; quis pegá-los mas não conseguiu. Então, afastou-se murmurando: "Estão verdes demais".
Nota: Perceba que a fábula tem um sentido ambíguo. Esqueça a moral. A fábula pode significar que a raposa se recusou porque estava difícil (e aí a moral oficialmente registrada aponta pra essa estrutura fabular), ou pode significar que a raposa preferiu procurar cachos que já estivessem maduros (a moral não cabe, aqui não é inveja, mas esperteza). Você pode experimentar ao compor suas analogias.
b) Agora o contrário: vamos da síntese ao exemplo. Esqueçam as narrativas, vamos focar na moral. Tentem dizer uma aprendizado ou ideia presente nas narrativas que criaram (ou nas que eu montei). A "Moral da história" é só isso: um aprendizado tirado daí. Se você experimentar dizer o aprendizado tirado das suas narrativas, vai ver que não vai ficar tão distante assim da moral (no máximo ela é uma paráfrase). A moral é mais do que essa conotação que ouvimos hoje: ela serve como uma síntese que pode gerar quantas narrativas você quiser. Vou colocar, em branco, as morais das duas fábulas. Espero que você tenha construído suas narrativas e se lembre delas para testar.
1) "Assim sofrem os que desejam igualar-se aos mais fortes; com efeito, eles próprios se prejudicam."
2) "Assim, também, alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias."
Tendo a fórmula vocês podem compor quantas histórias quiserem, e das mais diversas, como os exemplos demonstram. O que elas têm em comum é a estrutura geral, que é dada, ora ora, pela moral, ou o aprendizado ali presente. Assim, por exemplo, Dom Casmurro tem uma estrutura similar a do 3º episódio da 1ª temporada de Black Mirror, ou Hamlet tem uma estrutura parecida com o Rei Leão. Não necessariamente que são iguais, mas são parecidas o suficiente na estrutura. Por fora, porém, são narrativas distintas, e o que vai variar, portanto, entre uma e outra, é o estilo.
c) Estilo. O estilo é simplesmente a maneira como é representada essas narrativas. É algo que está presente em cada narrativa, mas que, se lemos em conjunto, podemos extrair ainda mais regras. Com Esopo a coisa é mais fácil. Vou exemplificar abaixo.
As duas narrativas que coloquei de exemplo a partir da 1ª fábula são completamente distintas, certo? Estilo é quando eu decido regras, ou personagens por exemplo, constantes, que viverão essas situações. Imagine que você vai compor uma série. Black Mirror, por exemplo. A regra dela é simples: eu quero compor situações, trágicas, que usem tecnologias avançadas. E aí se você pega as fábulas de Esopo, por exemplo, você tem a disposição umas trezentas narrativas, em que cada uma podia compor um episódio, por exemplo. (Claro que algumas se repetem, mas é só para ilustração). Você tem a estrutura do enredo: daí é só inventar personagens e uma tecnologia para ele.
E o estilo de Esopo? É simples. Existe mais do que isso, mas a marca geral dele é compor tudo com animais, e esses animais possuem umas regras fixas. A raposa é esperta e pode ser maliciosa; o burro é "burro"; o leão é forte etc.. Enfim, os animais possuem suas marcas, verossímeis com a espécie real.
Você tem que aprender a dar uma atenção mais abstrata às coisas. Por trás da narrativa existe uma estrutura que ela segue. Isso vale para novelas da Globo, desenhos infantis, animes, desenhos de heróis, filmes, séries, livros de literatura clássica. A regra de uma obra é ser fechada em si mesmo, e quanto mais seus elementos tiverem sido racionalizados e bem posicionados, mais perfeita é a obra.
Diga-se de passagem, uma das diferenças centrais de um autor de cultura industrial para um de alta cultura é que o industrial, tão logo arranja uma fórmula de sucesso, repete-a incansavelmente. Poderíamos dizer isso de Esopo, mas se examinamos suas fábulas, vemos que seu foco foi menos em gastar o estilo até o fim do que expressar todas as estruturas de enredos possíveis. A falta de repetição de uma estrutura entre as fábulas demonstra isso. Já One Piece, por exemplo, por mais que possa ser divertido, é uma narrativa levada até as últimas consequências, com personagens de padrão de ação já definido. Do mesmo modo, o autor de Black Mirror já esgotou a inventividade em tecnlogias e começou a se repetir. O estilo do autor bom vai ficando mais sutil, de modo que entre suas obras existe algo que as conecta, mesmo que sejam obras distintas, como é o caso do Machado de Assis: ele brinca o máximo com formas literárias, mas existe um modo particular de brincar com elas.
Vamos ao próximo tópico.
II) Imitação de uma cena/trecho.
Aqui já saímos da fábula para uma narrativa maior. A característica da fábula é contar as coisas de forma mais breve possível, por isso também escolhe animais: eles não têm a complexidade de particularidades e objetos humanos para lidar. A diferença de tamanho implica, em geral, em incluir subenredos, mais personagens. Assim, por exemplo, se uma novela tem centenas de episódios é, em primeiro lugar, porque tem dezenas de personagens, cada qual representando um enredo importante, todos mais ou menos amarrados a um enredo maior, que é o foco da novela. Além disso, é marca do estilo da novela focar nos relacionamentos amorosos entre os personagens, então os enredos vão se diluindo nessas cenas e ganhando tempo de roteiro até chegar nas centenas de episódios.
A imitação da cena/trecho é mais simples. Você lê/vê um trecho e acha bacana. Ok, agora tente compô-lo em outro estilo. Se você tem uma narrativa pessoal, ou se compôs uma, por exemplo, a partir de uma fábula (para ser mais rápido), agora você vai pegar essa situação e tentar vestir nela a cena.
Por exemplo. Tem uma cena de Dostoiévski de uma discussão em uma mesa, que percebi que é praticamente igual em duas obras: Crime e Castigo e Notas do Subsolo. Percebi, claro, porque eu próprio adorei a cena. Barraco puro. Eu não lembro agora em detalhes a cena, mas só em notá-la como cena você já ganha o poder de imitá-la, por assim dizer.
Se eu pego a narrativa da bulimia (a 1a), eu posso colocar uma mesa com a personagem principal e dois amigos, por exemplo. Um deles dizendo que ela deve parar com isso, a outra chorando, até que encontram uma 4ª pessoa, digamos um crush, entrando no local, e tudo explode. (realmente não lembro os detalhes da cena, mas só imaginem).
Se pego a narrativa do olavette na universidade (a 2a), eu posso imaginar o personagem numa mesa perto de uma cantina, ou no bandeijão, do mesmo modo, com dois amigos, vociferando. Um deles explica que ele deve estudar, o outro fica incitando. E aí aparece um professor de quem o aluno estava falando mal, por exemplo. E aí segue a narrativa.
Percebam que, em primeiro lugar, a narrativa já não é mais só o enredo principal que montei no começo. Se tem essa cena, implica que ela tem várias outras que vão compor a história completa. O tamanho da história vai depender do meu interesse: se quero algo menor, pode ser conto; se médio, novela; se longo, romance. Como disse no começo do tópico, o tamanho vai implicar na quantidade de subenredos envolvidos. Assim, por exemplo, a narrativa central de Crime e Castigo pode ser resumida numa simples fábula de Esopo (não postarei aqui pra não dar spoilers). Mas aí não teríamos o enredo de Marmeladov, nem de Sônia, nem da Ekaterina, nem Razumikin, Dúnia, Svidrigailov etc., menos ainda a conjunção desses enredos numa narrativa só. O valor final da obra vai depender de o autor ter ou não uma intenção para o conjunto, e o quanto seus personagens e situações falaram dessa intenção. Particularmente não sou crítico literário, nem teria saco pra fazer uma análise minuciosa de Dostoiévski, mas lendo Shakespeare, posso dar um exemplo.
III) Imitação de uma obra
Shakespeare é um monstro. Terminei ontem O Rei Lear, e é com ele que vou exemplificar aqui. Como disse antes, a obra se mede pela unidade, e perceber essa unidade é ser capaz de montar uma analogia a partir dela, como no caso das fábulas. Se você não coloca em palavras, ela não aparece. E é tão simples quanto o caso da fábula, e algo que sai de imediato: se não fazemos isso é simplesmente porque ninguém nunca mostrou nem disse. Se não nos dizem, não temos como saber que é possível.
Shakespeare é um monstro. Vamos ao porquê. Primeiramente: esqueça os comentários que te derem sobre uma obra. Esqueça-os. Só esqueça. Na contra-capa do Rei Lear tem escrito: "A tragédia definitiva sobre a velhice". Grande bosta. Não é isso, não. Prefira sempre a sua percepção da obra. Sempre, sempre, sempre. A crítica literária é bastante útil, mas para perceber elementos da obra que talvez você não tenha percebido. Lembra que falei que não existe erro ou acerto, mas aproximação sucessiva? Pois bem, a crítica te abre para aspectos que podem te aproximar mais dos detalhes da obra. Mas a percepção direta é sempre mais potente, porque a crítica fala de pedaços, e a percepção fala do todo.
1º: lembre-se de ver as personagens e situações como partes de um conjunto. Você tem que sempre presumir que o autor não colocou nada ali de maneira solta. Não é só uma historinha que ele quer contar: é um sistema ordenado que ele está construindo.
2º: a análise que vou montar não foi só da leitura de Rei Lear. Já havia lido outras obras, e elas ajudaram a lembrar essas constâncias que vou descrever. Mas, como constâncias, podem ser percebidas de 1ª só pela obra. Mas eu tinha bem menos experiência quando li as anteriores. Por sorte, algo delas ficou na memória: isso é sempre útil.
a) Logo de cara você deve perceber que o tema ali não é exatamente sobre velhice. Vamos chutar um tema, a partir do que foi apresentado (e sem tentar dar spoilers). Vamos dizer que é traição ao pai. (a escolha de palavras não importa, só o que elas apontam) Guarde aí, vamos ao segundo ponto que chama atenção;
b) Mentiras. Percebi desta vez que os personagens de Shakespeare constroem uma teia de mentiras.
c) As "frases chiques", impactantes, quase como provérbios. Quem fizer uma análise rasa da obra pode simplesmente dizer que ele colocou "pra se amostrar", ou "pra demonstrar provérbios". É a parte d
Agora vamos decompor a narrativa para ilustrá-la. Nada ali está por acaso. Vai ter alguns spoilers, mas não tantos assim.
I) Imaginemos o tema como sendo "traição ao pai".
II) Os personagens são escolhidos especialmente para isso. Há 2 núcleos principais: Lear, o rei, e o conde Gloucester.
IIa) Lear tem 3 filhas. 2 traidoras, 1 justa. 1 das traidoras tem um marido justo; a outra tem um marido raivoso. Tudo isso serve pra revelar as duas variantes da traição feminina.
IIb) Gloucester tem 2 filhos, 1 bastardo e 1 legítimo. O bastardo se revolta por ser bastardo e cumpre sua própria maldição, deixando pai contra filho e filho contra pai. Um filho justo, um filho raivoso. O filho raivoso mostra a traição masculina.
IV) Nisso a peça vai mostrando o jogo de lealdades, como um personagem que toma uma vingança justa por tomar o sujeito como pai; ou como quando o filho traidor é tomado por um doa maridos das filhas para ser "um pai melhor que o outro".
V) Quando se somam os núcleos, podemos ver toda a complexidade do tema em ação.
VI) As frases marcantes de Shakespeare se encaixam pra dar voz à situação que ocorre. Ex.: o filho justo precisa fugir, aí se disfarça de louco, pelado. Vendo isso um personagem exclama (não sei recompor noa detalhes) "então sem a civilização somos só isso: uma larva nua, sem nada mais". O poder das frases não são as frases: é a situação apresentada: ela só revela a situação.
VI.2) Mas a situação é composta pelo Shakespeare. Ele escolhe o modo de loucura do cara ser por ficar pelado. Se não estivesse não daria pra ter a frase, e aí o louco não serviria pra representar a pequenez do homem. É brilhante. Realmente brilhante!
***
Uma boa obra deve ter a intenção de ser a última, definitiva. De esgotar todas as suas possibilidades. O autor de porte quer ser o último a compor naquele tema ou estilo, aproveitando o máximo possível. Ainda assim, a geração seguinte achará novas possibilidades que poderão ser tratadas. Assim, por exemplo, a peça de Ionesco, "O rei está morrendo", pode ser considerada um complemento de Shakespeare (mas o autor nem chega perto do poder de Shakespeare).
Percebam como é fechadinha, como cada parte se encaixa, e o quão profundo Shakespeare consegue elaborar o tema. E a própria escolha de teatro, isto é, de discurso puro, permite isso. Quanto a alguma escolhas particulares do estilo, como citar em grande parte deuses romanos - mas nem sempre - demoraria mais para tratar.
Digamos que eu quisesse imitar Shakespeare. Eu quero compor um enredo moderno, como "a problemática da mãe solteira". Então vamos imaginar. 1º, Shakespeare coloca entre reis e rainhas, porque nessa condição não se trata apenas de paixões humanas, mas sim daquilo que vai definir todo o curso de nações. Eu, que não tenho essa experiência nem convivo em ambientes nobres, vou ser mais sincero e tratar a coisa em menor escala, até pra simplificar o exemplo.
Eu quero tratar mãe solteira, então digamos que eu fizesse... (estou chutando).
a) Uma peça, b) uma senhora, viúva, que mora com um filho adulto, solteiro; c) a senhora tem uma filha adulta, solteira e com um filho (é o centro da narrativa);.
Aqui eu posso compor: 1- o contraste da viuvez com a solteirice, 2- o contraste do homem solteiro com a mulher solteira.
Digamos que eu acrescente d) a senhora tem um outro filho, casado, que mora longe, mas talvez esteja na cidade em visita;
agora eu posso tratar 3- o contraste do casado com o solteiro (de repente boto outro filho pra mostrar um casamento que deu certo e outro que deu errado, ou um com filhos e outro com "pai e mãe de pet").
Eu teria que decidir se é pra ser uma tragédia. Se é imitação do estilo de Shakespeare, deve ser uma tragédia, e deve ter o centro em mentiras. Então eu comporia uma sucessão de relacionamentos entre esses personagens que são ocultados por mentiras (e omissões). Se nossos personagens são:
A senhora, seus quatro filhos (duas mulheres, dois homens, dois solteiros, dois casados), eu posso construir uma traição. (Notem que eu estou inventando isso agora, inclusive percebendo detalhes de Shakespeare agora). A vantagem de Shakespeare colocar reis e rainhas é que a disputa de poder fica mais evidente como motor de tragédia. Aqui, eu teria que colocar, por exemplo, uma herança, que está com a senhora viúva. E daí pode ter a disputa por essa herança. Estava procurando uma frase de Shakespeare sobre a disputa de poder sem sentido dos homens, mas não a achei (acabei de ler o livro e já perdi o local kkk). Mas até aqui deve ser suficiente: não é meu objetivo aqui escrever esse texto, é só pra ilustração. Eu poderia ter que remodelar a escolha de personagens, para se ajustar ao propósito do tema. Quanto ao estilo, eu posso compor como falas normais ou, se assim o quiser, montar um modelo métrico pras falas (uma vez estava tentando fazer um exercício de diálogos com 8 sílabas poéticas), mas provavelmente sem rima, e mesmo evitando toda rima, se é pra ser algo no estilo "moderno" e na linha "regional" (seco como João Cabral ou Graciliano Ramos).
Vamos para o último caso tratado.
IV) Imitação da unidade do autor
Tudo isso o que eu tratei no tópico anterior é de apenas UMA peça de Shakespeare, tomada isoladamente (as demais no máximo para auxiliar a perceber essa uma). Mas Shakespeare não compôs só uma peça, mas várias. De modo geral, todo mundo (o que inclui todo autor) possui uma unidade. Deixe eu repetir e enfatizar: de modo geral, todo mundo possui uma unidade. Só mais uma vez: todo mundo possui uma unidade. Em outras palavras, ninguém pode deixar de ser ela mesma, então há traços, características, tendências, temas, focos, enfim, que transparecem em suas ações - consequentemente suas obras. Porém, quanto maior o autor, mais ele tem consciência de si o suficiente para escolher, na medida do possível, essa unidade. Camadas 12 (santos, profetas, e intelectuais de mais alto porte como Olavo) são aqueles que têm uma posse quase total dessa unidade, seja nas ações (santos), seja nas obras (intelectuais); da camada 8 em diante o que ocorre é a posse cada vez mais consciente dessa consciência de si para tornar possível optar por uma unidade pessoal. Isso significa, em outras palavras, que em um autor menor, o conjunto das obras não diz nada a mais do que "eu fui uma pessoa que viveu, que fez isto, isso e aquilo, e em cada momento eu quis tratar de um tema x, com algumas características, que refletem meu estado emotivo às situações do momento". Em um autor maior, assim como a obra é toda medida para expressar um conjunto, suas obras também, na medida do possível, expressam uma mensagem maior.
Veja Shakespeare. Isso significa que ao pegar as tragédias da maturidade: Hamlet, Otelo, O Rei Lear, Macbeth, conseguimos extrair uma visão cada vez mais poderosa sobre um pensamento que esteve ali presente. Do mesmo modo Dostoiévski, Machado de Assis, mesmo Nelson Rodrigues. O tamanho do autor varia, como entre Nelson, que trata do mal menor de paixões humanas, e Machado, que trata do mal menor em geral, e em geral de acordo com o grau de abstração do pensamento a que o autor conseguiu atingir. Mas, ainda assim, Nelson e Machado, ambos, possuem uma unidade, o que já os coloca acima da média. Tomar posse dessas unidades é conseguir pensar na sua própria, assim como no caso da obra.
Não vou aqui destrinchar nenhuma unidade de nenhum autor, porque demoraria bastante, mas convido que você faça o exercício do Olavo de ler um autor por vez, ao menos com unzinho, para fazer esse exercício. Em 1º lugar, em cada obra faça a análise que eu mostrei com Shakespeare. "Ah mas eu não consigo!" Consegue, tente! Como na fábula, chute! O chute te leva cada vez mais pra próximo do centro de onde emana a consciência do autor. Em seguida, leia a obra seguinte com consciência da anterior, e comparando-as, procurando traços comuns. A gente sempre faz isso: cada frase que lemos, nós temos que compará-la com a seguinte. Só que deixamos isso no automático, e, no automático, a coisa fica fraca. Faça conscientemente essa comparação, pelo menos entre obras. E aprenda a ser um grande autor.
***
Nota: Isto aqui não vale só pra escrita. Quem quer que leia a Poética Musical em 6 lições do compositor musical Stravinsky verá ali um depoimento maravilhoso sobre camada 9. A música clássica é exatamente como o que eu fiz com a narrativa de Shakespeare: existe a sonoridade, que é o que estamos ouvindo e "sentindo", mas o compositor mediu cada parte, escolheu, pensou, não pela sonoridade, mas pela forma que ele quer construir. E o bom ouvinte é aquele que ouve não só com o sentimento, mas que vai do sentimento à inteligência, e conversa com o compositor quase que de igual para igual.
Diga-se de passagem, essa capacidade de perceber unidades e partes, como as partes compõem a unidade e como a unidade em si mesma tem significado (e portanto a soma total da obra é maior do que a soma das partes) é algo que está em qualquer coisa, quando levada pela inteligência. Quando dizem que "xadrez estimula a inteligência" não é ficar jogando como quem jogaria damas: é porque, sendo um jogo com muitas possibilidades de movimento, e tendo tempo de existência, o xadrez tem todo um legado de técnicas e movimentos que permitem que o jogo seja não só um lazer, mas um experimento de medida e comparação, como quem estuda o sequenciamento dado por Euclides à Geometria. Dizer, porém, que isso é suficiente para ser um bom estrategista é falso: o que há aí é o domínio de uma habilidade na sua relação entre as partes e o conjunto (de minha parte, prefiro as artes do que o xadrez, porque elas têm, além da forma, um conteúdo útil). A página seguinte é desvendar a habilidade raciocínio implícita nessa primeira, usada para o particular. É essa habilidade que permite aprender a aprender qualquer outra com mais poder e rapidez e, portanto, estratégia militar seria uma delas. Sem ter isso, claro que algo dessa habilidade vai passar, vai inspirar, além das próprias partidas de xadrez, como é uma disputa entre dois, servir para, vez por outra, sugerir algumas estratégias "devo deixar o meu rei rodeado em tal ponto, cercar a torre (esquadrão mais forte) do oponente para atingir a rainha (esquadrão mais habilidoso e arriscado) etc.".
Sobre essas duas camadas de habilidade Sócrates discorre no Fedro. Ao 1º (como o bom poeta, o bom sofista, o bom enxadrista) ele seguiria como a um rei. Ao 2º, que é, em suma, o filósofo, ele seguiria como a um deus. O diálogo serve para mostrar essa decomposição de uma técnica (no caso o discurso retórico), e a relação de absorver uma técnica em seus detalhes e descobrir a própria "técnica de decomposição", ou análise abstrata, que é a filosofia. Do concreto ao abstrato e de volta ao concreto.
Sei que essa parte não tem exatamente a ver com a imitação de escritores, mas tem sim. Porque em primeiro lugar não basta imitar - mais ainda, se sua intenção não é ser escritor, essa imitação é só pra aprender a absorver a mensagem melhor; em segundo, porque é só a aquisição cada vez melhor da "técnica de decomposição", semi-consciente ou plenamente consciente, que permite, seja compor, seja ler com o máximo de precisão. È, também, o recurso para adquirir uma personalidade cada vez mais forte, porque abre a nossa liberdade para escolher a nossa própria unidade, o que queremos ser e deixar. Fora disso, o que temos é uma reação ao momento, seja positiva ou negativa, e assim ainda que adquiramos uma unidade, essa unidade não reflete nossa vontade, mas apenas aquela pequena parte da nossa escolha de fazer algo que parecia bom ou ruim conforme o momento. O bom escritor, o camada 9 em diante, é aquele que adquire cada vez mais uma plena posse de dar significado ordenado às coisas; lê-lo ou imitá-lo implica ter também essa habilidade. Do contrário, caímos, no melhor dos casos, raro por si mesmo, na crítica literária; em todos os demais casos, vemos apenas a casca das coisas, e nossa imitação, portanto nossa obra, só refletirá isso.
***
Nota2:
No caso da escrita em si, é preciso mais uma observação, talvez a principal: a nossa função não é copiar escritores. A imitação é o recurso para absorver a mensagem em seu poder, em primeiro lugar, e, em segundo, absorver técnicas de escrita (ou da arte e técnica em questão). Cada pessoa deve ter sua própria mensagem, retirada das suas vivências e seus interesses mais profundos: essa mensagem, por sua vez, exigirá um estilo particular para ser expresso. É tarefa do compositor ter recursos para compor um estilo pessoal de acordo com as exigências da sua mensagem.
Descobrir a sua mensagem implica autoconhecimento: é perceber o que desperta nosso interesse, e perceber, sobretudo, o mecanismo interior de geração de ideias. Stravinsky, como muitos artistas sérios, tenta negar a inspiração, mas é algo apenas em nível verbal. O que os autores negam é que a inspiração, ou o nascimento de uma ideia, seja o trabalho completo; de fato, não é. A inspiração é o mote, como o próprio Stravinsky, no livro que mencionei, reajusta depois: é estar no mundo e de repente vir uma sugestão de um som, ou uma cena que inspire um som ou narrativa, ou simplesmente experimentar compor até vir algo que chame atenção em si mesmo. O que vem depois disso é partir dessa ideia e, de acordo com o repertório pessoal de técnicas e recursos, compor algo; nossa intenção de composição vai aproveitando o que aparece e complementa, e então nasce uma obra.
Essa fonte de ideias é algo que todo mundo tem, e é a base de tudo humano. Até nossa fala: se prestar atenção, ela ocorre mesmo que não estejamos plenamente conscientes dela estar ocorrendo. E, de algum modo, ela expressa uma intenção sutil que está presente e que move a boca e os lábios, sem que precisemos ter plena consciência prévia do que vai sair. "Só sai", se tivermos os recursos (a língua). Se não temos os recursos, essa pré-intenção fica engasgada, e tenta se expressar do modo mais próximo possível. É essa fonte, que ora nós usamos, e ora se sugere para nós, no nascimento de uma nova impressão, que, eu arrisco dizer, é a fonte da cultura humana.
Vocês podem ler um depoimento bom disso ao pesquisar "verbum mentis" em Olavo, no depoimento do Stravinsky, ou nas notas introdutórias da edição da Nova Aguilar à obra do Fernando Pessoa, nas obras Mensagem e Cancioneiro (e o Livro do Desassossego é um depoimento prático disso).
Qualquer coisa, se quiserem, posso postar aqui detalhes.
Fiquem à vontade para quaisquer comentários, dúvidas ou sugestões.
Um bom domingo.
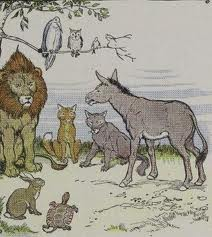



Comentários
Postar um comentário